 |
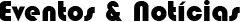
Eventos, notícias, lançamentos, novidades, ... e muito mais! Confira, agora, nossos principais destaques.
Prefacio e Prólogo do livro Justiça & CaosJUSTIÇA & CAOS: De Adauto Suannes - Desembargador aposentado - Jurista autor de diversas obras jurídicas, entre elas: “Que é o Habeas Corpus?” (Brasiliense), “Noções de Direito Público e Privado” (Max Limonad) e “Os Fundamentos Éticos do Devido Processo Penal” (Revista dos Tribunais). PREFÁCIO Mundo às avessas Des. Alberto Silva Franco A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 29 de junho de 2006, no julgamento do caso Hamdam v. Rumsfeld, decidiu que as comissões militares criadas pelo Governo Bush eram ilegais, por carência de autorização expressa do Congresso Nacional, e violadoras também do direito internacional e da legislação militar norte-americana. Tais comissões militares, formadas depois da destruição das Torres Gêmeas, tinham por finalidade estrita julgar os estrangeiros confinados em Guantánamo e considerados inimigos combatentes ilegais, na guerra movida contra o terrorismo. Para remover esse obstáculo judicial, o Presidente
Bush, inspirado no modelo anterior, mas com acréscimos extremamente nocivos aos direitos fundamentais da pessoa humana, enviou ao Congresso Americano projeto de lei, no qual propôs a criação de novas comissões militares com o mesmo objetivo. Tal projeto, que mereceu críticas severas de organizações de defesa de direitos humanos, acabou aprovado sem modificações mais aprofundadas, nas duas Casas do Congresso Americano, nos dias 28 e 29 de setembro de 2006, dando origem ao Military Comissions Act 2006. Poderia indagar-se: a esta altura qual o interesse que essa legislação pode provocar além dos limites geográficos norte-americanos? A resposta não demanda muitas explicações. No mundo globalizado, tudo pode ocorrer. No país que tem a hegemonia no campo econômico, político, cultural e, sobretudo, militar, importa a todos os cidadãos que vivam fora dele, máxime quando essa nação “superior” adotou em nível internacional, a pretexto de garantir sua própria segurança, a estratégia da guerra preventiva. Se algum interesse norte-americano – qualquer que seja a sua natureza - sofrer agravo em algum lugar do globo terrestre, têm os Estados Unidos o direito de intervir para preservar sua segurança. Logo, toda a legislação norte-americana nessa matéria passa a ter um significado especial, na medida em que, de um lado, possa entrar em conflito com direitos humanos e liberdades fundamentais e, de outro, esteja dotada de alta carga de pressão, idônea a provocar reflexos em países emergentes atacados da irresistível capacidade de imitação. Não se tem aqui o propósito de analisar a nova legislação na sua totalidade, mas apenas de pôr em destaque alguns de seus artigos. A nova lei amplia o poder do Presidente George W. Bush na definição do conceito de inimigo combatente ilegal. Não trata apenas de estrangeiro suspeito de prática de atos de terrorismo: inclui também quem, estrangeiro ou nacional, deu apoio material a uma organização terrorista. A desmotivada e subjetiva capitulação presidencial acarreta, de imediato, três conseqüências: o detido não terá tempo definido de prisão cautelar; não poderá questionar-lhe a legalidade por não ter acesso ao habeas corpus; e será julgado, com até a possibilidade de ser condenado à morte, por uma comissão militar de exceção vinculada ao Poder Executivo, e não por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela legislação militar americana. Mas não é só. Ao Presidente Bush foi ainda atribuído o poder exclusivo e secreto de determinar o que constitui uma “técnica abusiva” de interrogatório. Tem ele autoridade para interpretar o significado e a aplicação das Convenções de Genebra, promulgando disposições administrativas sobre violações das obrigações assumidas, desde que elas não representem graves infrações. E no rol das infrações menos graves o Governo Bush já fez uso de métodos como o isolamento de mais de cento e cinqüenta dias em cela permanentemente iluminada, interrogatórios durante largo espaço de tempo (de 18 a 20 horas diárias), a privação de sono por cinqüenta dias, o uso de hipotermia, simulacros de afogamento, exploração de fobias pessoais, desnudamento dos detentos, abusos físicos, inclusive sexuais etc. Em resumo, a nova legislação legaliza a prisão arbitrária e a tortura. Se tudo isso já não bastasse, o Military Comissions Act 2006 impede aos tribunais americanos o reconhecimento, em relação aos agentes estadunidenses, de violações anteriormente praticadas em desrespeito ao artº 3º das Convenções de Genebra, o que significa, por sua aplicação retroativa, uma verdadeira anistia pelas torturas executadas em Abu Ghraib, em Guantánamo, no Afeganistão e em tantos outros centros de detenção norte-americanos espalhados pelo mundo. A breve análise dessa desastrosa lei põe à mostra não a presença de um Estado respeitoso dos direitos humanos, das garantias individuais e das liberdades fundamentais, mas sim de um Estado prepotente, autoritário, policial e invasor. A versão atual dos Estados Unidos, montada sobre a luta sem quartel e sem escrúpulos ao terrorismo, desmente sua tradição histórica de defensor dos valores democráticos e dos direitos humanos e o iguala a outros tantos países que se destacam pelas marcas da violência e do próprio terror. Os efeitos da mudança dos caminhos adotados pelos Estados Unidos influenciam a ordem internacional, e o mundo começa a caminhar às avessas, tomando direções perturbadoras para a paz e para a convivência entre os povos. Não seria caso de responder afirmativamente a indagação de Eduardo Galeano: “Si el mundo está, como ahora está, patas arriba, ¿no habría que darle vuelta, para que pueda pararse sobre sus pies?” Alberto Silva Franco PRÓLOGO Se um habitante de outro planeta pudesse observar o que se passa na Terra, ele jamais haveria de imaginar que os homens atuam inspirados pela razão e por uma moral responsável. Acreditar no progresso é acreditar que, usando os novos poderes que nos são propiciados pelo crescente conhecimento científico, os humanos podem se libertar dos limites que constrangem a vida de outros animais. Essa é a esperança de praticamente todo mundo hoje em dia, mas não tem fundamento. Pois, embora o conhecimento humano muito provavelmente continue a crescer e, com ele, o poder humano, o animal humano permanecerá o mesmo: uma espécie altamente inventiva que também é uma das mais predadoras e destrutivas. Faz sentido acreditarmos no predomínio do Direito sobre a Força? A Justiça, humanamente falando, é viável, quer no campo interno, quer no campo internacional? Por que escrever este livro? Foram essas questões que me acudiram quando pensei em reunir em um único livro algumas considerações (hoje é moderno falar em “pensata”) que escrevi sobre Justiça e Direito. É que, nas vésperas de me tornar, irremediavelmente, um setuagenário, achei que deveria prestar contas daquilo de melhor que recebi ao nascer: minha capacidade de me indignar. Estivesse às vésperas dos noventa anos, nem por isso me decidiria a regalarme una noche de placer con una adolescente virgen de catorce años, como entendeu de fazer o personagem de Gabriel García Márquez, que acabou por enamorar-se da Delgadina, uma das mais simbólicas personagens da literatura contemporânea. Se o extraordinário romancista colombiano nos mostra que sempre é possível descobrir, quaisquer sejam nossas limitações, até mesmo de ordem física, algo tão fundamental como o amor, que descobertas ainda me falta fazer? Sei bem que a experiência é um farol que se coloca no último vagão do trem, para iluminar o agora inútil caminho percorrido. Sei também que aquele que, depois de plantar, olha para trás, a fim de deslumbrar-se com a plantação que produziu, não é digno da colheita. Mas, que diabos!, sou e pretendo continuar a ser apenas um ser humano. Anos de psicoterapia hão de ter servido para algo mais do que apenas proporcionar aos meus sucessivos psicoterapeutas, que me ajudaram a encontrar meu caminho, uma vida economicamente mais confortável. “O dia em que descobrir que há enormes diferenças entre um homem e um anjo você estará salvo!” dizia-me um deles. O que me recordava Paul Chauchard, para quem o ser humano, por não ter instinto, está condenado a ser mais do que um animal, ou menos do que um animal, nunca um animal. Seria, portanto, hora de fazer uma espécie de relatório concernente a um aprendizado que vem consumindo toda uma vida. Ao nascer, o mesmo anjo torto que havia antes visitado Drummond cochichou-me ao ouvido a mesma frase. Eu, no entanto, por alguma limitação pessoal, dei a ela apenas um sentido político, o que também chegou a passar pela cabeça do nosso poeta maior, tendo, assim, nós ambos o mesmo objeto para alvo de nossa preocupação: esse misterioso animal chamado ser humano, sem nos filiarmos a sectarismos políticos. Agora, creio que deveria dizer ao mesmo anjo que uso fiz eu, ao longo desse tempo de vida, daquilo que, segundo dizem, nos distingue a nós, humanos, dos demais primatas. Para que me serviu a capacidade de refletir? Seria possível resumir isso? Joseph Campbell, cuja leitura me levou a caminhos de espiritualidade que refogem aos padrões dogmáticos das religiões tradicionais, sustenta que a grande herança judaico-cristã, qualquer que tenham sido os estragos feitos pela leitura literal dos textos bíblicos por muitos de seus ministros e sacerdotes ao longo da História, é o sentido da compaixão. Citando ninguém menos do que Schopenhauer, ele nos ensina que a compaixão é uma identificação de alguém com uma pessoa que não é ele, uma ultrapassagem da barreira que existe naturalmente entre as pessoas, de tal maneira que o outro deixa de ser um estranho, passando a ser uma pessoa. Nesse processo, diz ele, transcrevendo o filósofo alemão, “eu sofro, a despeito do fato de sua pele não envolver meus nervos”. O primatólogo Frans de Waal, no entanto, nega que os primatas inferiores desconheçam a compaixão e a bondade. Vários comportamentos de chimpanzés e bonobos, por ele estudados há tantos anos, demonstram que eles nutrem esses “sentimentos morais”, como os designaríamos se nos referíssemos aos seres humanos. Penso que muitos de nós pode enquadrar-se nisso, se se dispuser a recapitular os momentos em que, efetivamente, praticou algum ato puramente altruísta, ou seja, no exclusivo interesse de alguém situado além dos limites de seu próprio corpo. Eu, pelo menos, diante dessa leitura, me vi transportado ao ginásio, quando a professora Rejanne Chabassus, mulher rigorosíssima, repreendia o Bráulio, um garoto tímido que, aliás, nunca mais voltei a ver, mas cujo nome guardei na memória, o que ela fazia porque ele não havia trazido a lição de casa. Levantei-me e pus-me a explicar à severíssima professora de francês, com toda eloqüência de que dispunha, os motivos pelos quais aquele colega não havia podido cumprir o seu dever. “Zero para ele que não trouxe a lição e zero para você, que é para aprender a não se meter onde não foi chamado” foi sua inapelável decisão. Muitíssimos anos decorridos, nova experiência semelhante a essa, a mostrar que aquela lição não fora por mim aprendida. O Corregedor Geral da Justiça de São Paulo fez publicar no Diário Oficial uma dura repreensão a um juiz criminal, porque este se recusara a realizar audiência relativa a uma carta precatória, uma vez que o Juízo deprecante não havia providenciado a remessa do acusado, que estava preso em outro Estado. “O juiz deprecante que anule o ato, se entender que é o caso disso” era como o desembargador Adriano Marrey terminava sua áspera animadversão. Mero juiz de Direito que eu era, peguei do telefone e liguei para o gabinete da Corregedoria, sendo atendido pelo juiz auxiliar Alberto Silva Franco, já então um jurista respeitadíssimo. Como eu sabia que eram os juízes auxiliares que elaboravam os despachos, despejei sobre o Alberto um caminhão de críticas, lembrando-lhe que o Corregedor Geral não tem competência legal para punir juiz nem para reformar decisão judicial. Quando terminei, o Alberto pediu-me gentilmente que na próxima vez que eu fosse à Capital, passasse pelo seu gabinete, onde ele me mostraria o despacho que o Corregedor havia lançado com o próprio punho. Mesmo porque o Silva Franco pensava comigo: aquele despacho exorbitava da competência legal do Corregedor, que foi, aliás, um juiz modelar, preocupado com os desvios comportamentais de juízes, o que nem sempre seus futuros colegas imitaram. O incidente tornou-nos amigos, espiritualmente inseparáveis, quaisquer tenham sido nossos caminhos físicos. Se eu conhecia a severidade daquela professora, que me faria enfrentá-la por uma causa que não era minha? Se eu nem amigo era do juiz censurado, por que me meti, mais uma vez, em assunto que não me dizia respeito? Tudo o que eu sabia até ler Campbell era que aquilo não havia sido determinado por um “dever cristão”, por mais que o Paulo Gaudêncio afirmasse o contrário em nossas sessões de psicoterapia. Faltava-me, porém, identificar esse algo mais, que em muitos momentos de minha vida me levou a suportar incompreensões e ofensas, por força de meu envolvimento com os chamados “direitos fundamentais do ser humano”. Eugene Kennedy, ao comentar a lição daquele sábio, esclarece que “a compaixão requer muito mais de nosso caráter, exigindo que cada um de nós empreenda uma jornada heróica até os limites extremos das vidas das pessoas que parecem diferentes de nós. Isso é fundamentalmente uma experiência espiritual, e não precisamos deixar nossas casas, nem sequer a cadeira onde estamos sentados, para ingressarmos nela”. Campbell chama a isso “a jornada do herói”, algo que diz com a descoberta do sentido da vida, até porque, segundo ele, “a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido”. Parafraseando Norberto Bobbio, outro herói de nosso tempo, no sentido de também ele ter-se metido em assuntos que, aparentemente, não lhe diziam respeito, direi inicialmente que falar de si é um vício que se deve perdoar nos velhos. Uso a palavra velho seguindo aqui a lição de Rubem Alves, para quem idoso é palavra que só se justifica na hora de viajar de graça no ônibus ou pagar meia-entrada no cinema e no teatro. E, por outro lado, o leitor deve compreender que há que se retirar da velhice alguns proveitos, diante dos poucos prazeres que ela nos proporciona. Um deles é, certamente, poder admirar-se no espelho com a vantagem de que a diminuição da visão nos oculta as muitas rugas que o tempo plantou em nosso rosto. E dizem que a natureza não é sábia! Em suma, “a velhice pode ser uma grande experiência de liberdade. Nunca me senti tão livre na vida! Agora tenho a liberdade de dizer o que penso e ninguém tem nada com isso”. Como dizia aquele pensador italiano, ter tido a obrigação de manter um diário, como tantos fizeram, teria sido algo extremamente aborrecido; entretanto, não ter agora um diário escrito não nos permite, a mim tanto quanto a ele, a grande alegria de poder desfrutar de suas anotações. Eu, como ele, porém, tenho também páginas e mais páginas escritas, à espera de alguma oportunidade para serem utilizadas, pois nelas “exprimo não só sentimentos e ressentimentos, simpatias e antipatias, intolerâncias, pequenas indignações e enormes desprezos, mas também comentários sobre os acontecimentos do dia, breves raciocínios para desfazer uma dúvida, argumentos a favor ou contra uma tese controvertida, rascunhos de artigos futuros. Essas folhas contêm, não raro, anotações autobiográficas, lançadas no papel nem tanto para transmitir à posteridade acontecimentos memoráveis, quanto para dar vazão a uma ansiedade de espírito, refletir sobre um erro cometido com o propósito de não o repetir, anotar um defeito para dele me livrar, tornando-me consciente dele e confessando-o, se não aos outros, pelo menos a mim mesmo”. Estão aqui algumas dessas inúmeras anotações, que se foram somando a outras e deram em escritos, que atrevidamente se poderiam chamar de ensaios que, aparentemente, não trazem relação alguma entre si. Uma leitura mais atenta dessas pensatas, no entanto, para a qual será necessária grande dose de paciência do leitor, mostrará que em todas elas está presente, em relação tensional, o binômio Caos/Direito, reflexão essa que ocupou a maior parte de minha vida lúcida. Se é que meus críticos alguma vez viram nela algo que se pudesse chamar lucidez. Minha esperança era que, ao longo do tempo, de uma situação de menos ordem, quer consideradas as relações inter-individuais, quer as relações inter-nacionais, caminhássemos para uma situação de menos desordem, supondo ser a ordem absoluta privilégio apenas da comunidade dos santos. Ou para o momento do esperado “ponto Ômega”, de que nos fala Teilhard de Chardin. Do Caos para a Justiça. Vã ilusão, porém. A diminuição dos espaços inter-nacionais, dita, grosso modo, globalização, mostrou a amplitude do problema, com o afloramento da necessidade de diminuir-se a desordem comprometedora das sadias relações comerciais entre nações diversas. Daí chegar-se a entrever até mesmo a impensável necessidade de intervenção de nações soberanas na vida de nações soberanas, sob o fundamento (ou pretexto?) de ser isso necessário para restabelecer-se ali uma tal “ordem natural das coisas”, na qual todos somos iguais perante o mesmo Criador. Em nome de Quem, aliás, o auto-ungido filho, na releitura pós-moderna do mito, atua em nova Guerra Santa contra os bárbaros muçulmanos, como outrora se lutou contra a tentativa de eliminação de castas sociais e a hierarquização capitalista da sociedade. E, em nome dessa Ética Internacional e dessa irmanização compulsória de todos os habitantes do mesmo planeta, eis a repristinação de gulags, à maneira do que se fizera na Alemanha do pós-guerra, com o cuidado de serem hoje os prisioneiros instalados fora do território sagrado do país hegemônico, que, aliás, se faz cercar por altos muros físicos para tentar impedir a contaminação de seu eleito povo por incômodos cucarachas, que, talvez atraídos pelo solo onde jazem sepultos seus maiores, o patrium solus de que se falava outrora, solo que ainda guarda no nome a marca da expropriação, procuram voltar à sua San Francisco, sua San Diego ou sua Florida (com acento paroxítono, evidentemente), onde jazem seus maiores. O que, à sua vez, implica a repristinação também de cortinas de ferro e muros de cimento, outros símbolos de um tempo que julgávamos sepulto pela História, não fosse apanágio dela ver repetirem-se os mesmos fatos de tempos em tempos, valendo-se ela da providencial amnésia dos governantes mundiais. Igualdade que distingue hoje como distinguiu sempre os mais iguais dos menos iguais. O caos, em nome da Justiça. Concretizemos isso: quando o embaixador brasileiro José Maurício Bustani foi eleito Presidente da Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ou OPAQ (Organização para Proibição de Armas Químicas), em 1997, procurou empregar a dissuasão como meio de conseguir a colaboração dos Estados membros para solucionar pacificamente o delicado tema da proliferação de armas ofensivas, que tanto preocupa os verdadeiros amantes da paz. Ele conseguiu aumentar o número de países membros, algo essencial para fazê-los sujeitos a inspeção de suas instalações por parte daquela entidade, elevando-o de 87 para 145. Foram realizadas em sua gestão mais de 1.100 inspeções em mais de 50 países, estimando-se ter sido possível, graças a seu poder de dialogar, obter-se uma redução em 15% do estoque de armas químicas no mundo, o que, mesmo estando ainda longe do desejável, estava acima do então possível. Foi reeleito em 2000, um ano antes do término de seu primeiro mandato, por aclamação, o que incluiu todos os Estados membros, até mesmo os Estados Unidos, embora estes jamais vissem com bons olhos a atuação daquele embaixador, tanto que esse país chegou a sonegar cerca de onze milhões de dólares àquela entidade, meio e modo sutil de tentar reduzir sua eficiência. Quando Bustani discordou explicitamente do governo norte-americano, em nome do tratamento isonômico a ser dispensado a todos os membros da OPCW, os Estados Unidos, que sempre se recusaram a autorizar a fiscalização de seu arsenal bélico, fizeram-no cair em desgraça, sendo seu mandato cassado por uma Assembléia Geral Extraordinária, graças à docilidade dos dóceis. O que se viu depois foi a invasão do Iraque, em nome de uma necessária eliminação de pretensos depósitos de armas químicas, que jamais foram encontradas. “Se não foste tu, então foi teu pai. Se não foi teu pai, então foi teu avô!” Não é assim que argumenta o lobo diante do cordeiro? O que tudo nos leva a indagar se a razão estará com o pessimista John Gray, para quem “a ciência não tem como satisfazer a necessidade humana de encontrar ordem no mundo”, ou com o realista Stephen Hawking, para quem, “já que o universo evoluiu regularmente, poderíamos esperar que as capacidades de raciocínio que nos foram dadas pela seleção natural também seriam válidas na nossa busca por uma teoria unificada completa (sobre o significado do Universo)”, e, portanto, para encontrarmos meios e modos de impedir a gradual eliminação da vida, o que vimos tentando ao longo do tempo. No campo interno, lembro que quando, há mais de 25 anos, eu tomava posse como Juiz de Segunda Instância, pronunciei o discurso solene, como era então a praxe, onde ressaltei meu desconforto em ter de abordar um tema já velho e revelho: a crise do Direito. “Nossos filhos e netos certamente nos cobrarão no futuro por aquilo que, podendo mudar, permitimos que permanecesse”, disse eu então. Talvez porque tais problemas não tenham ainda sido solucionados, acharam melhor, pragmaticamente, abolir os discursos de posse. Para alguns leitores, estes ensaios consistirão de meras jeremíadas, lamentos diante da incapacidade de seu autor em ver os claros progressos obtidos pela Humanidade e que se refletem, obviamente, na melhoria de nosso padrão de vida. “Nós quem, cara-pálida?”, como se diz na anedota. Até porque “não importa quantas vezes os resultados dos experimentos estejam de acordo com alguma teoria; você nunca poderá ter certeza de que, na próxima vez, o resultado não a contradirá”. Ou, dito de outra forma: “Nada é mais vulnerável do que uma teoria científica, apenas uma tentativa efêmera para explicar fatos, e nunca uma verdade eterna”. Será acaso isso razão para desistirmos de tentar impedir o desaparecimento de nosso planeta? Anima-me saber que “o homem moderno não entende o quanto o seu racionalismo (que lhe destruiu a capacidade para reagir a idéias e símbolos numinosos) o deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se das superstições (ao menos pensa tê-lo feito), mas nesse processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante”. E isso se reflete na atividade diária de todos nós, por mais que a indústria da diversão procure alienar-nos dos problemas que só fazem avolumar-se à nossa volta. Essa necessidade de refletirmos sobre a transcendência humana, que sempre me encantou, parece não agradar aos adeptos dessa pragmaticidade, que, escudados no cômodo positivismo, lêem Hans Kelsen como bem lhes apraz. Positivismo versus Ética? Não fui eu, porém, quem trouxe para o campo jurídico imagens e conceitos religiosos, como a própria palavra Justitia, que não só é o nome romano da deusa grega Têmis, cujo busto enfeita os nossos fóruns, como é também, na mitologia judaico-cristã, um atributo de Deus. Se não sou eu o autor dessa importação, por que haverão de censurar-me por haver trazido, também eu, conceitos mitológicos para melhor expressar meus argumentos? O mesmo se dá no cenário internacional. Eu poderia, a esse propósito, discorrer longamente sobre um símbolo político: a cruz suástica, que nos recorda o nazismo. Esse símbolo tornou-se político por apropriação realizada pelos líderes nazistas (consta que, em 1910, o poeta nacionalista Guido von List teria feito a sugestão de utilização do símbolo, já que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, também conhecido por Nazi, por oposição aos sociais-democratas, os Sozi, estava pretendendo ressuscitar a antiga civilização védica ou ariana, que se teria notabilizado por sua ferocidade guerreira). Ocorre que tal cruz sempre foi um símbolo religioso, tanto que a palavra, em sânscrito, quer dizer boa sorte. É ela uma cruz eqüilátera, com os braços dobrados seja para a esquerda (sinistrógira) seja para a direita (destrógira), a sugerir movimento, tal como a roda da vida. A suástica é um símbolo sagrado tanto no Hinduísmo, como no Jainismo e no Budismo. O que aqui fica dito apenas para mostrar que os terrenos da política e da religião não possuem linhas divisórias perfeitamente claras, donde o perigo de toda e qualquer radicalização preconceituosa a respeito do alcance dessas mitologias. Ao longo da História, têm sido invocados fundamentos religiosos para uma atuação política, tanto quanto se têm invocado fundamentos políticos para impor verdades religiosas. Falar do Direito e da Justiça será, portanto, falar de mitos; falar de mitos será falar do inconsciente coletivo; falar do inconsciente coletivo será iniciar uma conversa que não terá mais fim. Diante do trabalho hercúleo que isso implica, melhor será, para muitos, fazer o mesmo que fez Alexandre Magno diante do nó górdio: na impossibilidade de decifrá-lo e, assim, desatá-lo, melhor será utilizar a espada. A mesma espada, aliás, que a deusa Justitia carrega na destra. A mesma espada com que o sábio Salomão se dispôs a cortar ao meio a criança, ao pretexto de bem decidir a intrincada causa que lhe havia sido trazida. Summum jus summa injuria, enfim. Aliás, eu havia imaginado dar a este capítulo de apresentação o nome de Sancta ira, para indicar o estado de espírito que por vezes me assalta quando me disponho a falar sobre a Justiça e, quase sempre, me meter onde não fui chamado. Relendo, porém, o De Senectute do Bobbio, como se impõe a todos aqueles que vêm aproximar-se a fita de chegada, vim a perceber algo que não havia notado quando da primeira leitura de suas memórias: o fato de ele se importar com a sorte de colegas de escola que eram vítimas de tratamento inadequado, que poderíamos chamar de “injustiças”, o que ele fazia com “notórios acessos de raiva”, o tornava “vítima de amigáveis zombarias”, segundo nos relata. Esses acessos eram chamados de “sagradas indignações”, o que seria um ótimo título para um capítulo escrito por alguém que sempre foi considerado um inconformista, constituindo-se, não por acaso, tal título uma tradução livre daquele por mim originalmente pretendido como título latino. Aí vão, portanto, minhas sanctæ iræ. Na primeira questiono se o ser humano não se teria tornado excessivamente “evoluído”, desligando-se, com isso, de suas raízes, tal como a árvore arrancada do solo por um vendaval. E vai sendo levado pela correnteza da História, incapaz de assumi-la. A segunda pensata é um delírio que parte de uma premissa impossível: juízes pensarem sobre algo que não seja apenas o Direito. E cuja implementação tem um pressuposto difícil de ser aceito: juízes serem responsabilizados seriamente pela desídia demonstrada no cumprimento de suas atividades, tal como o desembargador Marrey pretendia há tantos anos, pesasse embora o excesso aqui denunciado. Recorde-se que a criação do Conselho Nacional de Justiça, realizada pela Emenda Constitucional 45/04, veio a mostrar que a auto-fiscalização da magistratura, trazida sempre até então como argumento pelos que se opunham à sua fiscalização pela sociedade, era uma balela, pois não impedia que muitos tribunais se tivessem transformado em reduto empregatício da parentela de seus membros, num desavergonhado nepotismo que tem como patrono um ilustre membro da magistratura: o Ministro José Linhares. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, veio a ocupar a presidência da República de 30 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946, no impedimento de Getúlio Vargas. No exercício de tal cargo, teria ele assim justificado a nomeação de tantos parentes nesse curto período: “Pouco me importa que esperneiem contra meus atos. A presidência da República é para mim coisa de pouca duração. O parentesco é para sempre. Não posso ficar mal com meus parentes pela vida inteira!”. Seu colega Carlos Ayres Britto, sessenta anos depois, assim resumiu a questão da necessidade de se levar a sério a norma constitucional que exige impessoalismo na formação do funcionalismo governamental: “Não se deve confundir espaço caseiro com público, assim como não se pode tomar posse do cargo, apenas no cargo.” A terceira é a reprodução de um trabalho que aborda um tema caro aos juízes, que, na maioria das vezes, não sabe o que fazer com ele: a violência humana. A criminalidade sempre foi e, ao que tudo indica, sempre será um tema aberto a discussões, especialmente quando vem contaminada pela violência, que, no limite, acaba questionando importantes conquistas da Humanidade, como o reconhecimento dos chamados “direitos fundamentais do ser humano”. Nossa tendência a confundir violência com agressividade, no entanto, tem trazido conseqüências que se impõe sejam registradas. Na pensata seguinte questiono a estrita legalidade de um dos julgamentos mundiais mais célebres: o julgamento de Nuremberg. Que lições podemos trazer para os dias de hoje, quando o poderio militar dos Estados Unidos leva seus dirigentes a desconhecerem o necessário respeito devido à dignidade humana? Quem se sentaria no banco dos réus hoje se não fosse a couraça que cerca as ações do governo norte-americano? O quinto capítulo é a reedição de um texto elaborado quando da invasão do Afeganistão, que, de certa forma, se liga à pensata anterior. O que ali vem exposto se aplica, evidentemente, também à invasão do Iraque, dois fatos históricos negativos que marcam o nosso incipiente século XXI, que um grande historiador poderia afirmar que “não começou muito bem”, já que, ao ver dele, o século XX “não acabou bem”. Tais invasões, realizadas em nome da necessidade de promover-se a destruição do terrorismo, acabaram não só por dar a ele uma expansão mundial inimaginável, como a confirmar a mendácia do mote pacifista do governo norte-americano. Basta considerar que, em junho de 2006, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ainda que por maioria de votos, entendeu ser inconstitucional o tratamento que aquele governo vem dando a cerca de 500 prisioneiros, mantidos, há anos, em condições degradantes em um galinheiro na cidade de Guantánamo, que ocupa a área de 116 quilômetros quadrados na costa sudeste de Cuba, país com o qual, ironicamente, os EUA não mantêm relações diplomáticas. Qual foi a conseqüência prática de tal decisão? Nenhuma, pois os prisioneiros sem nome nem identidade continuam morrendo ou enlouquecendo sem que a sociedade norte-americana se importe com isso. Por fim, descrevo, no sexto capítulo, o que se tornou um autêntico e inimaginável processo kafkiano. Durante mais de 10 anos, uma família permaneceu aterrorizada pela acusação absolutamente infundada de que seu chefe teria cometido um duplo e brutal homicídio. A decisão final veio a afirmar não haver elemento algum de prova quanto à autoria atribuída a ele. Nem mesmo como as duas crianças haviam morrido ficara esclarecido na instrução criminal, o que não impediu que os acusados fossem mandados a júri. O caso é tão incrível, que me pareceu adequado anexar à súmula romanceada dele duas peças autênticas do processo, para que o leitor possa conferir a autenticidade do relato. Ao fim da leitura, talvez se possa perguntar: havendo o Direito sido criado para colocar ordem no caos, não estaríamos agora caminhando no sentido inverso? O tamanho da ingenuidade expressa na velha crença de que o crime não compensa é comprovada a toda hora a nível nacional e internacional. A corrupção endêmica, o crime organizado, o tráfico internacional e o neo-colonialismo são desafios que parecem maiores do que a capacidade do ser humano de administrá-los. Qual a saída? Fomos ensinados a crer que a ciência nos levaria a algo que, à falta de melhor palavra, foi denominado evolução. Hoje fala-se em pós-modernidade como outrora se falava em modernidade, para expressar o simples passar do tempo. “Parole, parole, parole”, como conclui magistralmente a cantora italiana. Talvez devamos ter presentes as palavras de Gray: “Campos de extermínio são tão modernos quanto cirurgia a laser”. Por fim, registro que minhas críticas ao Poder Judiciário nem sempre são compreendidas por quem não quer compreendê-las. “Só quem ama corrige” dizia o poeta. “Je ne fais pour vous que mettre en mots ce que vous-mêmes connaissez en pensée. Et qu’est-ce que la connaissance par le mot sinon l’ombre de la connaissance sans le mot?” LEIA + NO LIVRO JUSTIÇA & CAOS: Fé e Ciência - O Processo Judicial e a Teoria do Caos - Agressividade e Violência - Relembrando Nuremberg - Civilização e Barbárie - Uma tragédia Judicial
Adquira já a obra relacionada com a notícia:
VOLTAR
|
 |